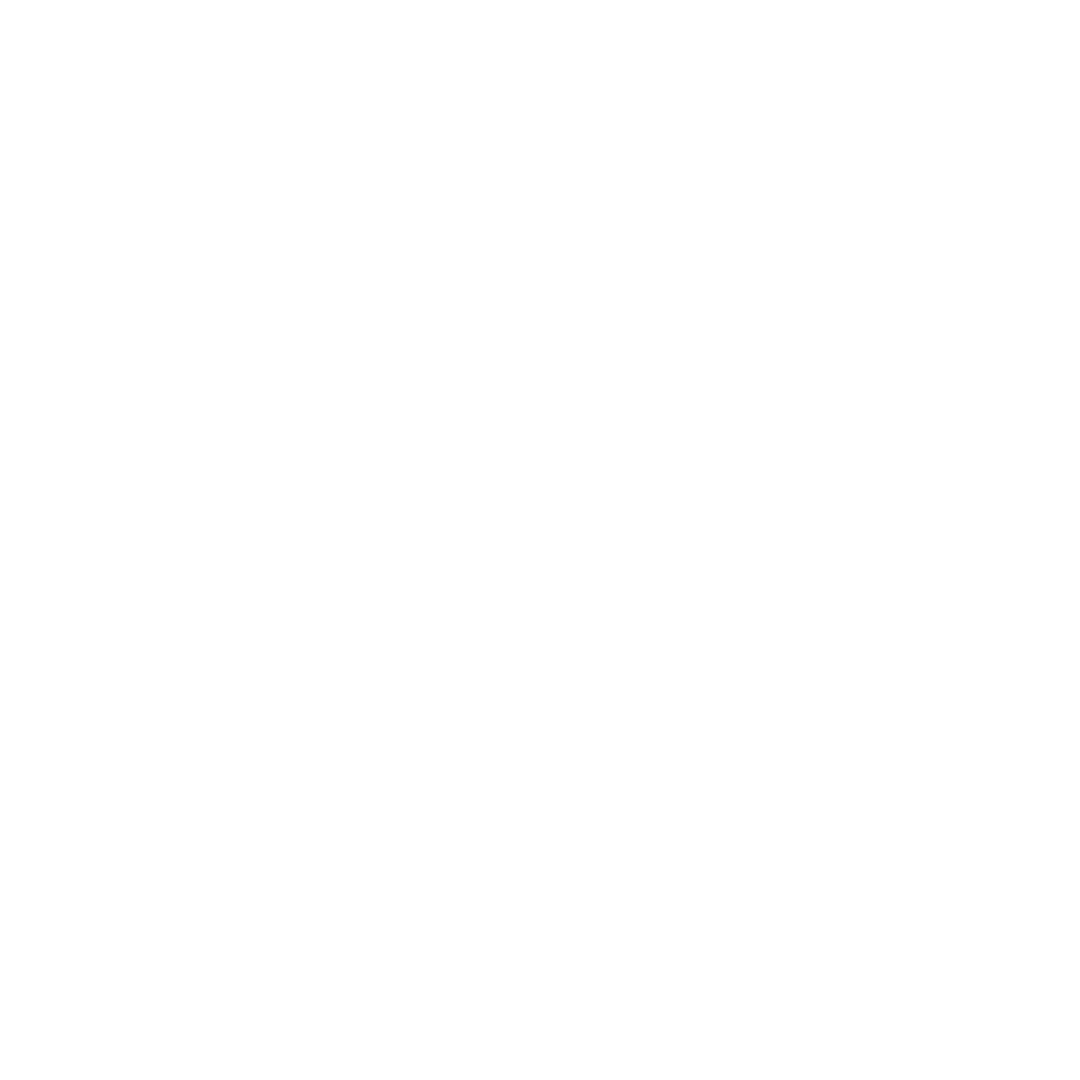Nascida das consequências aterrorizantes da Segunda Guerra Mundial, a criatura conhecida como Godzilla é grandiosa por si só, mas que conseguiu deixar sua marca na história do Japão e também do cinema. Em 65 anos, desde sua criação, Gojira (seu nome original) é a verdadeira marca do medo pelas consequências nucleares, além de discutir temas lovecraftianos, sobre o inimaginável e até sobre o nosso papel no mundo. Toda a grandiosidade do personagem não só rendeu dezenas de filmes, como uma mitologia própria, com seu universo fechado e outras criaturas tão interessantes quanto o próprio Godzilla.
Mesmo com seu espírito nacionalista, era previsível sua presença em produções ocidentais, já tendo uma em 1956 e outras quatro até a versão atualizada feita por Gareth Edwards, em 2014.
Altamente criticado, o longa de Edwards sofreu por apostar em uma proposta mais humana, não sendo, na verdade, um filme do Godzilla em si, mas sim um drama pessoal em que o monstro estava inserido. No entanto, apesar de uma intenção interessante de se trabalhar, não houve o cuidado de construir personagens interessantes ao ponto de roubar a cena da gigante criatura. Algo que acontece também com a sequência, agora dirigida por Michael Dougherty. Por mais que a proposta agora siga um caminho diferente, com um foco maior na criatura, o roteiro sofre em tentar um equilíbrio saudável entre os monstros e humanos, já que esses ainda não conseguem ser tão interessantes quanto.
Nesse caso, Dougherty evolui a trama apresentada por Edwards, trazendo um roteiro simples – junto com Zach Shields e Max Borenstein – que funciona bem para introduzir outros grandes monstros clássicos da mitologia, como Ghidorah, Mothra e Rodan. Esses, que deveriam ser o verdadeiro foco para a elevação do Rei dos Monstros, são ofuscados por tramas mal desenvolvidas do núcleo humano.
Inclusive, a construção realizada por Dougherty é grandiosa quando se trata das criaturas, que possuem designs fiéis aos clássicos longas japoneses, e que são bem estruturadas através da sua câmera, apesar do americano não trazer conceitos visuais tão marcantes quanto Edwards. No entanto, elas funcionam e recompensam o espectador ansioso pelo conflito entre os quatro monstros principais, mas ficam longe do destaque. Isso porque é impossível não focar na mediocridade do roteiro escrito pelos três.
A trama em si, de maneira geral, não é o verdadeiro problema, já que conseguem desenvolver plots simples e que ajudam a caminhar a jornada. Porém, é vergonhoso o desenvolver dos diálogos e o encaixe deles na trama. Dougherty, Shields e Borenstein perderam a mão ao tentar construir dinâmicas construtivas e momentos de humor, tornando tudo muito brega em diversos momentos, dentro de um roteiro extremamente – e desnecessariamente – expositivo. O longa entrega momentos de vergonha alheia em uma quantidade absurda. Um exemplo disso está em um momento específico de um discurso de ódio ao Godzilla, para, no final, um outro personagem dialogar com outro reforçando o discurso sem ao menos precisar. Inclusive, o filme é recheado de reforços gratuitos. Dougherty não conseguiu ter uma conversa saudável entre sua direção e roteiro, já que, muitas vezes ele apresenta o conceito visualmente e, em seguida, traz o mesmo conceito através da fala.
Podem parecer detalhes insignificantes, mas são esses tempos de tela que ofuscam aquilo que realmente importa: os monstros. Por mais que a presença de personagens humanos seja importante, até para gerar o conflito e discussões existenciais – como o próprio fator da existência humana diante os Titãs – faltou coragem, tanto aqui, quanto nos filmes anteriores – no caso, Godzilla (2014) e Kong: A Ilha da Caveira (2017) – de dar o protagonismo às criaturas.
A própria trama criada é simples justamente para isso, de só gerar o conflito inicial e deixar a história se desenvolver por si só. No entanto Dougherty insiste em estabelecer diversos momentos focados no drama humano, o que resulta em trocas muito longas de diálogos e que não desenvolvem a trama naturalmente. O verdadeiro problema é que o núcleo humano não é bem construído, dando a impressão ao espectador de tempo desperdiçado, já que não há empatia pelos personagens, gerando um sentimento de ódio ao invés de compaixão. A mesma situação acontece nos outros dois longas, e é justamente nesse segmento que nasce a dúvida sobre o desenvolvimento do futuro Godzilla vs Kong.
Apesar do triste roteiro, as interpretações são coniventes diante seus personagens, principalmente com Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Charles Dance e Ken Watanabe. Este, especificamente, sofre com um mal do primeiro filme que o prejudica. No longa de 2014, o personagem de Watanabe tem seu momento de glória ao, enfim, se referir ao monstro como “Gojira”, conseguindo, através da sua interpretação passar a grandiosidade da criatura. Pelo funcionamento da fala no filme anterior, o roteiro insistiu em colocar a palavra em grande quantidade nas falas do ator. A ação, por mais justa que seja, prejudica, não só o poder da interpretação do veterano ator, como também enfraquece o próprio Godzilla, já que o termo, que tem uma intenção primária de remeter a algo aterrorizante, passa a ser algo comum, fugindo da proposta.
Ainda que Godzilla II: Rei dos Monstros melhore conceitos do filme de 2014 e até expande sua mitologia com a apresentação dos novos monstros, não foi transmitida a verdadeira experiência, e consequentemente, o verdadeiro sentimento de poderio do personagem, que deixa dúvidas sobre um futuro promissor do universo compartilhado dos monstros da Warner.